Tenho um livro aqui em casa do Thomas Nagel que achei uma porcaria. Mas, acho que era um destes livros de "filosofia de divulgação" (sic). No caso deste Artigo do "Batman" em questão a coisa é bem diferente! Não sei se alguma vez já li o artigo na íntegra (nem sei se entendi o pouco que li!) mas, de um jeito ou de outro, este é um Clássico da Filosofia da Mente. Agora, obviamente, não garanto que nossos "fregueses" vão gostar da coisa. De qualquer forma, já aviso que não compactuo mais com o pragmatismo naturalista que reina na maioria esmagadora de tudo que é escrito nos EUA. Mas, como diria nosso Filósofo Jardel, Clássico é Clássico e Vice-Versa. Eis aí a coisa...
---
--
-
OBS: http://criticanarede.com/ é a fonte deste "CTRL c CTRL v"
22 de Setembro de 2004 · Filosofia da mente
Como é ser um morcego?
Thomas Nagel
Universidade de Nova Iorque
Tradução de Luís M. S. Augusto
A consciência é o que faz do problema da relação mente-corpo um problema verdadeiramente intratável. É por essa razão, talvez, que as discussões mais recentes acerca do problema da relação mente-corpo lhe dão tão pouca importância ou o deturpam de uma forma evidente. A recente vaga de furor reducionista produziu várias análises de fenómenos e de conceitos mentais forjadas com vista a explicar a possibilidade de uma qualquer variedade de materialismo, de identificação psicofísica ou de redução1. Mas os problemas por elas tratados são aqueles comuns a este e outros tipos de redução quando, na verdade, o que faz da mente-corpo um problema único, distinto do problema água — H2O ou do problema máquina de Turing — máquina IBM, do problema relâmpago — descarga eléctrica, do problema gene — ADN ou do problema carvalho — hidrocarboneto, é ignorado.
Todos os reducionistas têm a sua analogia favorita na ciência moderna. É extremamente improvável que qualquer um destes exemplos bem sucedidos de redução sem qualquer relação uns com os outros possa vir a deitar alguma luz no problema da relação entre a mente e o cérebro. Mas, a verdade é que os filósofos compartilham com o resto da humanidade a tentação de explicar aquilo que é incompreensível em termos apropriados àquilo que é conhecido e bem compreendido, ainda que de natureza completamente diferente.
Este facto levou ao acolhimento de descrições implausíveis do mental, em grande medida porque elas permitiam tipos já conhecidos de reducionismo. Vou tentar explicar porque é que estes exemplos habituais não nos ajudam a compreender a relação entre a mente e o corpo — porque é que, de facto, não temos neste momento nenhuma noção do que poderá ser uma explicação da natureza física de um fenómeno mental. Sem a consciência, o problema da mente-corpo seria muito menos interessante; com a consciência, parece impossível de resolver. Ainda não compreendemos muito bem a característica mais importante e distintiva dos fenómenos mentais conscientes. A maior parte das teorias reducionistas nem sequer a tentam explicar. E uma análise cuidadosa mostrará que nenhum dos conceitos correntes de redução lhe pode ser aplicado. Talvez se possa forjar uma nova elaboração teórica precisamente para esse efeito, mas uma tal solução, a ser possível, sê-lo-á somente num longínquo futuro intelectual.
A experiência consciente é um fenómeno amplamente difundido. Existe em muitos níveis da vida animal, ainda que não possamos ter a certeza da sua existência nos organismos mais simples; para além disso, é extremamente difícil dizer em termos gerais o que é que nos pode fornecer provas da sua existência. (Alguns extremistas chegaram mesmo a negar que ela exista em quaisquer outros mamíferos para além do homem.) Sem dúvida que ela existe sob formas incontáveis completamente inimagináveis para nós, noutros planetas noutros sistemas solares pelo universo fora. Mas, independentemente das múltiplas formas possíveis, o facto de um organismo ter um mínimo que seja de experiência consciente significa, basicamente, que há algo que é como ser esse organismo. Pode haver outras implicações relativas ao modo de experiência; pode até mesmo (embora eu duvide) haver implicações no que diz respeito ao comportamento do organismo mas, fundamentalmente, um organismo tem estados mentais conscientes se e só se houver algo que é como ser esse organismo — algo que é como para o organismo.
Podemos chamar a isto o carácter subjectivo da experiência. Isto não é incluído em nenhuma das análises redutoras do mental mais conhecidas, recentemente forjadas, já que todas elas são logicamente compatíveis com a sua ausência. Isto não é analisável nos termos de um qualquer sistema explicativo de estados funcionais ou intencionais, já que estes podiam ser aplicados a robôs ou autómatos que se comportassem como pessoas apesar de não sentirem nada2. Não é analisável nos termos do papel causal das experiências em relação ao comportamento humano normal, e isto por razões semelhantes3. Não estou a negar que os estados e acontecimentos mentais conscientes causem comportamentos, nem que possam ser caracterizados em termos funcionais; o que eu nego é que este tipo de abordagem possa esgotar a sua análise. Qualquer programa reducionista tem que se basear numa análise daquilo que se pretende reduzir. Se a análise deixar algo de fora, o problema será posto de forma incorrecta. É inútil fundamentar a defesa do materialismo numa qualquer análise dos fenómenos mentais que não inclua explicitamente o seu carácter subjectivo. Pois não há qualquer razão para supor que uma redução que pareça plausível sem uma tentativa de explicação da consciência possa vir a alargar-se de forma a incluir a consciência. Assim sendo, sem uma ideia do que é o carácter subjectivo da experiência, não podemos saber o que exigir de uma teoria fisicalista.
Embora uma teoria do substrato físico da mente tenha que explicar muitas coisas, esta parece ser a mais difícil de explicar. É impossível excluir numa redução as características fenomenológicas da experiência do mesmo modo como se excluem as características fenomenais de uma substância comum aquando de uma redução física ou química da mesma — nomeadamente, explicando-as como efeitos nas mentes dos seres humanos que as observam4. Se se pretende defender o fisicalismo, então tem que se oferecer uma descrição física das próprias características fenomenológicas. Mas quando atentamos no seu carácter subjectivo, uma tal descrição parece ser impossível. A razão é que qualquer fenómeno subjectivo está essencialmente ligado a um único ponto de vista e parece inevitável que uma teoria física, objectiva, tenha que abandonar esse ponto de vista.
Deixem-me primeiro tentar expor a questão de forma mais completa do que pela referência à relação entre o subjectivo e o objectivo ou entre o pour-soi e o en-soi. Esta tarefa não é nada fácil. Factos acerca do como é ser um X são muito peculiares, pelo que alguns podem querer negar a sua realidade ou a importância das asserções feitas acerca deles. Para ilustrar a ligação entre subjectividade e um ponto de vista e para tornar evidente a importância das características subjectivas, pode ser útil analisar este assunto recorrendo a um exemplo que realce claramente a diferença entre os dois tipos de concepção, a subjectiva e a objectiva.
Penso que todos acreditamos que os morcegos têm experiências. Afinal de contas, são mamíferos e não se pode duvidar que eles tenham experiências sem duvidar que os ratos, os pombos ou as baleias tenham experiências. Escolhi os morcegos em vez de vespas ou solhas pois, quando que se desce demasiado fundo na árvore filogenética, as pessoas perdem gradualmente a crença de que possa existir lá qualquer experiência. Os morcegos, embora mais próximos de nós do que essas outras espécies, apresentam contudo uma gama de actividades e uma constituição sensorial tão diferentes das nossas que o problema que quero pôr se torna excepcionalmente evidente (embora também se pudesse pôr em relação a outras espécies). Mesmo sem a ajuda da reflexão filosófica, qualquer pessoa que tenha passado algum tempo num espaço fechado com um morcego assustado sabe como é confrontar-se com uma forma de vida fundamentalmente estranha.
Afirmei que o que está na origem da crença de que os morcegos têm experiências é o facto de haver algo que é como ser um morcego. Agora sabemos que a maior parte dos morcegos (os michrochiroptera, para ser mais exacto) percepcionam o mundo exterior primordialmente por meio de sonar ou ecolocalização, detectando as reverberações dos seus guinchos curtos, subtilmente modulados e de alta frequência nos objectos ao seu alcance. Os seus cérebros são constituídos de forma a correlacionar os impulsos que libertam com os ecos subsequentes e a informação assim adquirida permite-lhes discriminar distâncias, tamanhos, formas, movimento e texturas com uma precisão comparável à da visão humana. Mas o sonar de um morcego, ainda que obviamente uma forma de percepção, não é operacionalmente semelhante a nenhum dos sentidos que possuímos e não temos qualquer razão para supor que seja subjectivamente como algo que possamos experienciar ou imaginar. Isto parece criar dificuldades relativamente à noção de como é ser um morcego. Temos que tentar descobrir se haverá algum método que nos permita extrapolar para a vida interior de um morcego a partir do nosso próprio caso5 e, se isso não for possível, temos que pensar em métodos alternativos que nos possam permitir a compreensão dessa noção.
A nossa própria experiência fornece-nos o material básico para a nossa imaginação, sendo o seu alcance por isso limitado. Não vale a pena tentar imaginar que temos uma membrana nos braços que nos permite voar no crepúsculo e na alvorada e apanhar insectos com a boca, ou que temos uma visão muito pobre e que percebemos o mundo à nossa volta com a ajuda de um sistema de sinais sonoros de alta frequência reflectidos, nem tão pouco nos vale a pena imaginar que passamos o dia pendurados de cabeça para baixo num sótão. Na medida em que posso imaginar isto (o que não é muito), isto só me diz como seria para mim comportar-me como um morcego se comporta. Mas essa não é a questão. Eu quero saber como é para um morcego ser um morcego. Mas quando tento imaginar tal, fico limitado aos recursos que a minha mente tem para me oferecer, e esses recursos são inadequados para essa tarefa. Não posso alcançar esse conhecimento imaginando possíveis adições à minha experiência actual, nem imaginando subtracções graduais à mesma, nem sequer ainda imaginando combinações de adições, subtracções e modificações.
Ainda que eu conseguisse ver e comportar-me como uma vespa ou como um morcego sem mudar a minha constituição fundamental, as minhas experiências em nada seriam como as experiências desses animais. Por outro lado, é legítimo duvidar se a suposição que eu deveria possuir a constituição neurofisiológica interna de um morcego faz qualquer sentido. Mesmo que eu pudesse transformar-me gradualmente num morcego, nada na minha actual constituição me permite imaginar como seriam as minhas experiências num tal estado futuro da minha metamorfose. O melhor testemunho viria das experiências dos morcegos, se pudéssemos ao menos saber como elas são.
Assim, se a extrapolação a partir do nosso próprio caso está ligada à nossa ideia de como é ser um morcego, então essa extrapolação permanece forçosamente incompletável. Não podemos ter mais do que uma concepção esquemática de como é. Por exemplo, podemos atribuir tipos gerais de experiência baseando-nos para tal na constituição e no comportamento do animal. É deste modo que descrevemos o sonar de um morcego como uma forma de percepção frontal tridimensional; pensamos que os morcegos sentem alguns tipos de dor, medo, fome, desejo sexual, e pensamos que eles possuem outras formas de percepção que nos são mais familiares para além do sonar. Mas pensamos também que estas experiências têm em cada caso um carácter subjectivo específico que está para além da nossa capacidade de concepção. E, a haver vida consciente algures noutras partes do universo, é bem provável que algumas das suas formas sejam indescritíveis, ainda que recorramos aos termos experienciais mais gerais de que dispomos6. (Aliás, o problema não se confina a casos exóticos, pois verifica-se entre duas pessoas. Por exemplo, o carácter subjectivo da experiência de uma pessoa surda e cega de nascença é-me inacessível e o carácter subjectivo da minha experiência é-lhe provavelmente também inacessível. Isso não nos impede de acreditar que a experiência do outro tem um tal carácter subjectivo.)
Se alguém estiver tentado a negar que possamos acreditar na existência de factos como este cuja natureza exacta não podemos conceber de maneira nenhuma, então esse alguém deverá reflectir sobre o facto de que, ao contemplarmos os morcegos, estamos na mesma posição em que morcegos inteligentes ou marcianos7 estariam se tentassem conceber como é sermos nós. A constituição das suas próprias mentes tornar-lhes-ia essa tarefa impossível, mas nós sabemos bem que eles estariam completamente errados se concluíssem que não há algo tão específico como sermos nós: que somente alguns tipos gerais de estados mentais nos poderiam ser atribuídos (talvez a percepção e o apetite fossem conceitos em comum entre nós, ou talvez não). Sabemos que estariam errados ao tirar essa conclusão céptica pois sabemos como é sermos nós. E sabemos que, embora a nossa consciência possua uma enorme variedade e complexidade e que, embora não tenhamos o vocabulário para a descrevermos adequadamente, o seu carácter subjectivo é extremamente específico e em certos aspectos descritível em termos que só podem ser compreendidos por outras criaturas como nós. O facto de que não podemos esperar vir alguma vez a incluir na nossa linguagem uma descrição detalhada da fenomenologia dos marcianos ou dos morcegos não deve levar-nos a pôr de lado como sem sentido a tese que defende que os morcegos e os marcianos têm experiências completamente comparáveis às nossas em abundância de pormenores. Seria óptimo se alguém conseguisse desenvolver conceitos e uma teoria que nos permitissem pensar acerca dessas coisas, mas uma tal compreensão pode estar-nos permanentemente vedada devido aos limites que a nossa natureza nos impõe. E negar a realidade ou a significação lógica daquilo que nunca poderemos descrever ou compreender é a forma mais evidente de irracionalidade.
Isto traz-nos até às fronteiras de um tópico que exige muito mais tratamento do que aquele que eu aqui lhe posso dar, a saber, a relação entre factos por um lado e esquemas conceptuais ou sistemas representacionais por outro. O meu realismo acerca do domínio subjectivo em todas as suas formas implica a minha crença na existência de factos que estão para além dos conceitos humanos. É sem dúvida possível a um ser humano acreditar que há factos para a representação ou a compreensão dos quais os humanos nunca possuirão os conceitos necessários. De facto, seria estupidez duvidar disto, dado o carácter limitado das possibilidades humanas. Afinal de contas, teria havido números transfinitos mesmo que toda a humanidade tivesse sido exterminada pela Peste Negra antes de Cantor os ter descoberto. Mas podemos ainda pensar que há factos que nunca poderão ser representados ou compreendidos pelos seres humanos, ainda que a nossa espécie dure para sempre, simplesmente porque a nossa estrutura não nos permite trabalhar com os conceitos necessários. Esta impossibilidade pode mesmo até ser testemunhada por outros seres, embora não seja evidente que a existência de tais seres, ou a possibilidade da sua existência, seja uma condição prévia para dar sentido à hipótese de que há factos que são inacessíveis aos seres humanos. (Afinal de contas, a natureza dos seres que têm acesso aos factos inacessíveis aos humanos é presumivelmente também ela um facto inacessível aos humanos.) A reflexão sobre o como é ser um morcego parece levar-nos, deste modo, à conclusão de que há factos que não consistem na verdade de proposições exprimíveis numa linguagem humana. Podemos sentir-nos obrigados a reconhecer a existência de tais factos sem sermos capazes de os enunciar ou compreender.
Não vou, contudo, continuar a tratar deste assunto. A relação deste problema com o assunto que temos agora em mãos (a saber, o problema da relação mente-corpo) é o facto de nos permitir fazer uma observação geral acerca do carácter subjectivo da experiência. Seja qual for o estatuto dos factos relativos a algo como é ser um ser humano, um morcego, ou um marciano, a verdade é que esses factos parecem concretizar um ponto de vista particular.
Não me refiro aqui à presumível privacidade da experiência. O ponto de vista em questão não é um ponto de vista acessível somente a um único indivíduo: trata-se mais propriamente de um tipo. É frequentemente possível adoptar um ponto de vista alheio, pelo que a compreensão de tais factos não se limita à compreensão do nosso próprio caso. Há um sentido em que os factos fenomenológicos são perfeitamente objectivos: uma pessoa pode saber ou dizer qual é a qualidade da experiência do outro. Contudo, estes factos fenomenológicos são subjectivos na medida em que mesmo esta atribuição objectiva de experiência só é possível para alguém cuja semelhança com o objecto desta atribuição seja suficiente para lhe permitir adoptar o seu ponto de vista — compreender a atribuição quer na primeira quer na terceira pessoa, por assim dizer. Quanto maior for a diferença entre nós e o outro experienciador, menor será o sucesso que podemos esperar deste empreendimento. No nosso próprio caso ocupamos o ponto de vista relevante mas teremos tanta dificuldade em compreender correctamente o nosso ponto de vista se o abordarmos a partir de um outro ponto de vista como teríamos se tentássemos compreender a experiência de uma outra espécie sem nos colocarmos no seu ponto de vista.8
Isto tem directamente a ver com o problema da relação mente-corpo. Pois se os factos da experiência — factos acerca de como é para o organismo que tem a experiência — só são acessíveis a partir de um único ponto de vista, então trata-se de um mistério como é que o verdadeiro carácter das experiências se pode revelar no funcionamento físico desse organismo. Este último pertence ao domínio dos factos objectivos por excelência — do tipo que pode ser observado e compreendido a partir de muitos pontos de vista e por indivíduos com sistemas perceptivos diferentes. Não há quaisquer obstáculos comparáveis da imaginação à aquisição de conhecimento sobre a neurofisiologia dos morcegos por parte dos cientistas humanos e pode bem ser que morcegos inteligentes ou marcianos venham a saber mais sobre o cérebro humano do que nós alguma vez poderemos saber.
Isto não é só por si um argumento contra o reducionismo. Um cientista marciano que não compreendesse a percepção visual poderia compreender o arco-íris, o relâmpago ou as nuvens como fenómenos físicos, ainda que não chegasse nunca a compreender os conceitos humanos de arco-íris, relâmpago e nuvem, ou o papel que estas coisas têm no nosso mundo fenoménico. A natureza objectiva das coisas representadas por estes conceitos poderia ser apreendida por ele pois, embora os próprios conceitos estejam ligados a um ponto de vista individualizado e a uma fenomenologia visual individualizada, as coisas apreendidas a partir desse ponto de vista não o são: elas são observáveis a partir do ponto de vista, mas são-lhe exteriores; logo, podem ser compreendidas a partir de outros pontos de vista, seja pelos mesmos ou por outros organismos. O relâmpago possui um carácter objectivo que não se esgota na sua aparição visual e isto pode ser estudado por um marciano sem visão. Para ser mais exacto, o relâmpago tem um carácter mais objectivo do que aquele que é revelado na sua aparição visual. Falando da passagem da caracterização subjectiva para a caracterização objectiva, gostaria de não me comprometer com a ideia de um ponto limite, uma natureza intrínseca completamente objectiva da coisa, que poderemos alcançar ou não. Talvez seja mais correcto concebermos a objectividade como uma direcção em que o entendimento pode avançar. E na tentativa de compreender um fenómeno como o relâmpago podemos legitimamente afastar-nos tanto quanto nos for possível de um ponto de vista estritamente humano.9
No caso da experiência, por outro lado, a ligação a um ponto de vista particular parece ser muito mais íntima. Não é fácil compreender o que queremos dizer quando nos referimos ao carácter objectivo de uma experiência separadamente do ponto de vista particular a partir do qual o seu sujeito a apreende. Afinal de contas, o que restaria de como é ser um morcego se ignorássemos o ponto de vista do morcego? Mas se a experiência não tem, a juntar ao seu carácter subjectivo, uma natureza objectiva que pode ser apreendida de múltiplos pontos de vista, então como é que se pode conceber que um marciano, ao investigar o meu cérebro, pudesse estar a observar os processos físicos correspondentes aos meus processos mentais (do mesmo modo que poderia observar os processos físicos correspondentes a relâmpagos), somente a partir de um outro ponto de vista? Já agora, como é que um fisiólogo humano os poderia observar a partir de um outro ponto de vista?10
Somos ao que parece confrontados com uma dificuldade de carácter geral relativamente à redução psicofísica. Noutras áreas o processo de redução é um passo em frente em direcção a uma maior objectividade e a uma visão mais precisa da verdadeira natureza das coisas. Isto consegue-se reduzindo a nossa dependência de pontos de vista individuais ou específicos da nossa espécie relativamente ao objecto de estudo. Descrevemo-lo, não nos termos das impressões que ele provoca nos nossos sentidos, mas em termos dos seus efeitos mais gerais e de propriedades detectáveis por outros meios que não os dos sentidos humanos. Quanto menos depender de um ponto de vista especificamente humano, tanto mais objectiva é a nossa descrição. É-nos possível proceder deste modo porque embora os conceitos e as ideias que empregamos para pensar sobre o mundo exterior sejam primeiramente aplicados a partir de um ponto de vista que implica a nossa estrutura perceptiva, usamo-los para nos referirmos a coisas que estão para além deles próprios — relativamente às quais temos o ponto de vista fenoménico. Por isso podemos abandoná-lo em favor de um outro e continuarmos ainda a pensar sobre as mesmas coisas.
A própria experiência, contudo, não parece conformar-se a este procedimento. A ideia de passarmos da aparência para a realidade parece não fazer aqui qualquer sentido. Qual é a situação análoga neste caso a tentarmos alcançar uma compreensão mais objectiva dos mesmos fenómenos desfazendo-nos do ponto de vista subjectivo inicial em relação a eles em favor de um outro ponto de vista que é mais objectivo mas que se refere à mesma coisa? Parece decerto improvável que nos consigamos aproximar mais da verdadeira natureza da experiência humana deixando para trás a especificidade do nosso ponto de vista humano e esforçando-nos por obter uma descrição em termos acessíveis a seres que não conseguiriam imaginar como é sermos nós. Se o carácter subjectivo da experiência só é completamente compreensível a partir de um ponto de vista, então qualquer desvio em direcção a uma maior objectividade — ou seja, em direcção a uma menor dependência de um ponto de vista — não nos aproxima mais da verdadeira natureza do fenómeno: afasta-nos ainda mais dela.
Num certo sentido, os germes desta objecção em relação à redutibilidade da experiência podem detectar-se já nos casos de redução bem sucedidos: pois ao descobrirmos que o som é, na realidade, um fenómeno de ondas no ar ou noutros meios, deixamos para trás um ponto de vista para adoptarmos um outro, mas o ponto de vista auditivo, humano ou animal, permanece não reduzido. Os membros de duas espécies radicalmente diferentes entre si podem compreender os mesmos fenómenos físicos em termos objectivos e isto não obriga a que elas compreendam as formas fenoménicas sob as quais esses fenómenos aparecem aos sentidos dos membros da outra espécie. É pois uma condição da possibilidade de se referirem a uma realidade comum que os seus pontos de vista mais específicos não façam parte da realidade comum que ambas apreendem. A redução só será bem-sucedida se se omitir o ponto de vista específico da espécie acerca daquilo que se pretende reduzir.
Mas se procedemos de forma correcta ao pôr de lado este ponto de vista na tentativa de conseguirmos uma compreensão mais completa do mundo exterior, não o podemos ignorar permanentemente, visto ele ser a essência do mundo interior e não meramente um ponto de vista acerca dele. A maior parte daquilo que constitui o neobehaviorismo da psicologia filosófica mais recente é o resultado do esforço para substituir um conceito objectivo da mente pela própria coisa, de modo a não ter mais nada que não se possa reduzir. Se reconhecermos que uma teoria física da mente tem que obrigatoriamente dar conta do carácter subjectivo da experiência, então temos que admitir que não possuímos de momento quaisquer pistas de como isto poderá ser alcançado. O problema é único. Se os processos mentais são de facto processos físicos, então há algo que é como, intrinsecamente,11 passar por determinados processos físicos. O que possa ser o caso para uma tal coisa permanece um mistério.
Que moral é que podemos tirar destas reflexões e o que é que se deve fazer em seguida? Seria um erro concluir que o fisicalismo deve ser falso. Nada fica provado pela inadequação de hipóteses fisicalistas que pressupõem uma incorrecta análise objectiva da mente. Seria mais correcto dizermos que o fisicalismo é uma posição que não conseguimos compreender porque de momento não conseguimos conceber de que modo é que ela pode ser verdadeira. Talvez se considere extravagante a necessidade de uma tal concepção como uma condição de compreensão. Afinal de contas, pode-se argumentar que a ideia central do fisicalismo é bastante clara: os estados mentais são estados corporais; os acontecimentos mentais são acontecimentos físicos. Não sabemos que estados e acontecimentos físicos são esses, mas isso não nos deveria impedir de compreender a hipótese. O que poderia ser mais claro do que as palavras "é" e "são"?
Mas eu acredito que é exactamente esta clareza aparente da palavra "é" que é enganadora. De um modo geral, quando nos dizem que X é Y sabemos como é que isso deve corresponder à verdade, mas tal depende de um pano de fundo conceptual ou teórico e não é exprimível somente por meio do "é". Sabemos de que modo "X" e "Y" se referem um ao outro e sabemos a que tipo de coisas é que eles se referem, e temos também uma ideia geral do modo como esses dois trajectos referenciais podem convergir numa única coisa, seja ela um objecto, uma pessoa, um processo, um acontecimento, ou seja lá o que for. Mas quando os dois termos de uma identificação são bastante díspares entre si pode já não ser tão claro como é que ela pode ser verdadeira. Podemos nem sequer ter uma ideia aproximada do modo como esses dois percursos referenciais poderão convergir, ou em que tipo de coisas eles poderão convergir, e podemos ter que elaborar um quadro teórico que nos permita compreender isto. Sem um quadro teórico a identificação fica envolta num ar de misticismo.
Isto explica a coloração mágica ostentada pelas divulgações populares que apresentam as descobertas científicas elementares como proposições que têm que ser aceites sem serem realmente compreendidas. Por exemplo, hoje em dia aprende-se em tenra idade que toda a matéria é na verdade energia. Mas apesar do facto de saberem o que significa "é", a maior parte das pessoas não fará nunca a menor ideia do que torna esta proposição verdadeira por não terem conhecimentos teóricos para tal.
Actualmente o estatuto do fisicalismo é semelhante àquele que a hipótese de que toda a matéria é energia teria tido se tivesse sido defendida por um filósofo pré-socrático. Não conseguimos sequer começar a conceber como é que ele poderá ser verdadeiro. Para compreendermos a hipótese de que um acontecimento mental é um acontecimento físico é preciso mais do que a mera compreensão do termo "é". Falta-nos a ideia de como um termo mental e um termo físico se podem referir à mesma coisa e as analogias habituais com identificações teóricas noutros campos não nos conseguem fornecer essa ideia. Elas não o conseguem fazer porque se construirmos a referência de termos mentais a acontecimentos físicos de acordo com o modelo habitual acabamos ou com um reaparecimento de acontecimentos subjectivos distintos como os efeitos através dos quais a referência mental a acontecimentos físicos é assegurada, ou com uma teoria falsa de como os termos mentais se lhes referem (por exemplo, uma teoria behaviorista causal).
Por estranho que pareça, podemos ter indícios da veracidade de algo que não conseguimos compreender. Imaginemos que alguém não familiarizado com a metamorfose dos insectos mete uma lagarta num cofre esterilizado e que após algumas semanas, ao abrir o cofre, se depara com uma borboleta. Se a pessoa que fechou a lagarta no cofre tem a certeza que o cofre se manteve sempre fechado então ela tem boas razões para pensar que a borboleta é ou foi outrora a lagarta, ainda que não faça a mínima ideia de como é que tal pode ter acontecido. (Uma possibilidade seria a de que a lagarta tinha dentro de si um minúsculo parasita alado que a devorou e que cresceu até se transformar na borboleta.)
É bem provável que nos encontremos numa posição semelhante face ao fisicalismo. Donald Davidson defendeu que se os acontecimentos mentais têm causas e efeitos físicos, então têm que ter descrições físicas. Segundo ele temos razões para pensar deste modo apesar do facto de que não temos — e na verdade não poderíamos ter — uma teoria psicofísica geral.12 O seu argumento aplica-se a acontecimentos mentais intencionais, mas eu penso que também temos razões para crer que as sensações são processos físicos, sem estarmos em posição de compreender esse facto. A posição de Davidson é a de que certos acontecimentos físicos têm propriedades irredutivelmente mentais, e talvez seja possível uma visão descritível nestes termos. Mas nada do que hoje podemos conceber equivale a uma tal visão e nem fazemos a mínima ideia de como seria uma teoria que nos permitisse pensar nesses termos.13
Pouquíssimo trabalho tem sido feito sobre a questão básica (da qual se pode omitir completamente qualquer menção ao cérebro) se o facto de as experiências possuírem um carácter objectivo faz sequer sentido. Por outras palavras, fará sentido perguntar como são realmente as minhas experiências em comparação a como elas me parecem? Não podemos compreender verdadeiramente a hipótese de que a sua natureza é capturada numa descrição física a menos que consigamos compreender a ideia mais elementar de que elas têm uma natureza objectiva (ou de que processos objectivos podem ter uma natureza subjectiva).14
Gostaria de terminar com uma proposta conjectural. Podemos diminuir o abismo entre subjectividade e objectividade a partir de uma outra perspectiva. Pondo temporariamente de lado a relação entre a mente e o cérebro, podemos esforçar-nos por compreender mais objectivamente o mental per se. Actualmente não conseguimos pensar sobre o carácter subjectivo da experiência sem nos apoiarmos na imaginação — sem assumirmos o ponto de vista do sujeito que tem a experiência. Devíamos ver isto como um desafio para a formação de novos conceitos e para a descoberta de um novo método — uma fenomenologia objectiva não dependente da empatia e da imaginação. Embora provavelmente ela não explicasse tudo, o seu objectivo seria o de descrever, pelo menos de forma parcial, o carácter subjectivo de experiências numa forma que fosse compreensível a seres incapazes de ter essas experiências.
Teríamos que desenvolver uma tal fenomenologia para descrever as experiências dos morcegos com os seus sonares, mas poderíamos de igual modo começar pelos seres humanos. Poderíamos, por exemplo, tentar desenvolver conceitos que pudessem ser usados para descrever a uma pessoa cega de nascença como é ver. Acabaríamos por ir de encontro a algum obstáculo, mas seria talvez possível divisar um método para exprimir em termos objectivos muito mais e com maior precisão do que aquilo que conseguimos exprimir actualmente. As vagas analogias intermodais — por exemplo, "O vermelho é como o som de um trompete" — que aparecem em abordagens deste assunto de pouco servem. Isso é perfeitamente óbvio a qualquer pessoa que tenha ouvido um trompete e visto a cor vermelha. Mas as características estruturais da percepção podem ser mais apropriadas para uma descrição objectiva, ainda que algo tenha que ficar de fora. E conceitos alternativos àqueles que aprendemos na primeira pessoa podem permitir-nos chegar a um tipo de compreensão até da nossa própria experiência que nos é negada pela própria facilidade de descrição e ausência de distância que os conceitos subjectivos permitem.
Para além do seu interesse intrínseco, uma tal fenomenologia objectiva neste sentido pode permitir que questões acerca da base física15 da experiência assumam uma forma mais inteligível. Aspectos da experiência subjectiva que permitam este tipo de descrição objectiva podem ser candidatos mais apropriados a explicações objectivas de um tipo mais habitual. Mas independentemente desta ideia estar certa ou errada, parece improvável que alguma teoria física do mental possa ser levada a sério até nos termos debruçado mais sobre o problema geral da subjectividade e da objectividade. Caso contrário não conseguiremos sequer colocar o problema da relação mente-corpo sem nos evadirmos a ele16.
Thomas Nagel
Notas
Exemplos disto são J.J.C. Smart, Philosophy and Scientific Realism (Londres, 1963); David K. Lewis., "An Argument for the Identity Thesis", Journal of Philosophy, LXIII (1966), reimpresso com adenda em David M. Rosenthal, Materialism & the Mind-Body Problem (Englewood Cliffs, N.J., 1971); Hilary Putnam, "Psychological Predicates" em Capitan and Merrill, Art, Mind & Religion (Pittsburgh, 1967), reimpresso em Rosenthal, op. cit., como "The Nature of Mental States"; D.M. Armstrong, A Materialist Theory of the Mind (Londres, 1968); D.C. Dennett, Content and Consciousness (Londres, 1969). Exprimi dúvidas anteriormente em "Armstrong on the Mind", Philosophical Review LXXIX (1970), pp. 394-403; "Brain Bisection and the Unity of Consciousness", Synthèse, 22 (1971); e uma crítica recente de Dennett, Journal of Philosophy, LXIX, 1972. Ver também Saul Kripke, "Naming and Necessity" in Davidson & Harman, Semantics of Natural Language, Dordrecht (1972), especialmente pp. 334-342, e ainda M.T. Thornton, "Ostensive Terms and Materialism", The Monist, 56 (1972).
Talvez seja impossível existirem tais autómatos. Talvez algo tão complexo que se comporte como uma pessoa tenha que ter experiências. Mas isso, a ser verdade, é um facto que não pode ser descoberto pela mera análise do conceito de experiência.
Isto não equivale àquilo acerca do qual não nos podemos enganar, porque nos podemos enganar acerca da experiência e porque a experiência está presente em animais que não possuem linguagem nem pensamento, não tendo, logo, quaisquer crenças sobre as suas experiências.
Cf. Richard Rorty, "Mind-Body Identity, Privacy, and Categories", The Review of Metaphysics, XIX (1965), especialmente pp. 37-38.
Com "o nosso próprio caso" não quero dizer simplesmente "o meu próprio caso", mas refiro-me antes às ideias mentalistas que aplicamos sem problemas a nós próprios e aos outros seres humanos.
Por isso a forma analógica da expressão "como é" induz em erro. Não quer dizer "com o que (na nossa experiência) a consciência se parece" mas sim "como ela é para o próprio sujeito".
Quaisquer seres extraterrestres inteligentes completamente diferentes de nós.
Pode ser mais fácil do que penso transcender as barreiras entre espécies com a ajuda da imaginação. Por exemplo, as pessoas cegas são capazes de detectar objectos próximos delas através de uma espécie de sonar, usando estalidos vocais ou batidas leves com uma bengala. Se soubéssemos como é ter esta experiência, talvez pudéssemos, por extensão, fazer uma ideia do que é ter um sonar tão preciso como o sonar de um morcego. A distância que nos separa dos outros e das outras espécies situa-se algures num contínuo. Mesmo em relação a outras pessoas só conseguimos compreender de forma muito parcial como é estar na sua pele; quando transpomos a barreira entre espécies, é provável que essa compreensão seja ainda bastante mais incompleta. A imaginação é extraordinariamente maleável. O ponto a que quero chegar não é, contudo, que nós não podemos saber como é ser um morcego. Não estou aqui a pôr esse problema epistemológico. O que eu quero dizer é mais propriamente que, até para concebermos como é ser um morcego (e sabermos a fortiori como é ser um morcego), temos que adoptar o seu ponto de vista. Se conseguirmos adoptar esse ponto de vista de forma aproximada ou parcial, então também o conceberemos de forma aproximada ou parcial. Ou pelo menos assim parece no quadro do nosso conhecimento actual.
O problema que vou pôr pode por isso ser posto mesmo se a distinção entre descrições ou pontos de vista mais subjectivos e mais objectivos só se pode fazer dentro de um ponto de vista humano mais abrangente. Não aceito este tipo de relativismo conceptual, mas também não preciso de o refutar para defender que uma redução psicofísica não pode ser incluída no modelo do subjectivo-ao-objectivo mais conhecido de outros casos.
O problema não se reduz somente ao facto de que, quando eu olho para a Mona Lisa, a minha experiência visual tem uma certa qualidade da qual nenhum traço seria detectável por alguém que observasse o interior do meu cérebro. Mesmo que ele conseguisse discernir no meu cérebro uma minúscula imagem da Mona Lisa, ele não teria quaisquer razões para a identificar com a minha experiência.
Esta não seria uma relação contingente, como a de uma causa com o seu efeito dela distinto. Seria necessariamente verdadeiro que um determinado estado físico "sentiria" de uma determinada maneira. Em Semantics of Natural Language (obra editada por Davidson e Harman) Saul Kripke defende que as análises behavioristas causais do mental, bem como outras análises com ela relacionadas, falham porque constroem, por exemplo, "dor" como tratando-se de um nome meramente contingente de dores. O carácter subjectivo de uma experiência ("a sua qualidade fenomenológica imediata", chama-lhe Kripke [p. 340]) é a propriedade essencial ignorada por essas análises e aquela em virtude da qual ela é, necessariamente, a experiência que é. A minha perspectiva está muito próxima da dele. Tal como Kripke, penso que a hipótese de que um certo estado cerebral deva necessariamente ter um certo carácter subjectivo é uma hipótese incompreensível sem a ajuda de mais esclarecimento. Esse esclarecimento não brota das teorias que vêem a relação entre a mente e o cérebro como contingente, mas talvez haja outras alternativas que ainda não foram descobertas.
Uma teoria que explicasse a relação necessária entre a mente e o cérebro deixar-nos-ia ainda com o problema levantado por Kripke de explicar como é que apesar de tudo essa relação parece ser contingente. Essa dificuldade parece-me ser ultrapassável do seguinte modo. Podemos imaginar algo representando-o para nós próprios perceptivamente, empaticamente, ou ainda simbolicamente. Não pretendo explicar aqui como funciona a imaginação simbólica, mas parte do que se passa com as outras é assim. Para imaginarmos perceptivamente uma coisa, pomo-nos num estado consciente semelhante àquele em que estaríamos se a percepcionássemos realmente. De modo a imaginarmos algo empaticamente, pomo-nos num estado consciente semelhante à própria coisa. (Este método só pode ser usado para imaginar acontecimentos e estados mentais — os nossos ou os de outrem). Quando tentamos imaginar um estado mental sem o estado cerebral que lhe está associado temos que, primeiramente, imaginar empaticamente a ocorrência do estado mental, isto é, pomo-nos num estado que se lhe assemelhe mentalmente. Ao mesmo tempo, tentamos imaginar perceptivamente a não ocorrência do estado físico que lhe está associado pondo-nos num outro estado dissociado do primeiro: um que se assemelhe àquele em que estaríamos se percepcionássemos a não ocorrência do estado físico. Quando a imaginação das características físicas é perceptiva e a imaginação das características mentais é empática, parece-nos que podemos imaginar qualquer experiência sem o seu estado cerebral associado, e vice-versa. A relação entre eles aparecerá como contingente ainda que seja uma relação necessária, devido à independência entre si dos tipos distintos de imaginação.
(Já agora, teremos que nos confrontar com o solipsismo se compreendermos erroneamente a imaginação empática como funcionando como a imaginação perceptiva: nesse caso parecer-nos-á impossível imaginar qualquer experiência que não seja a nossa.)
Ver "Mental Events" in Experience and Theory, editado por Lawrence Foster and J.W. Swanson, Amherst, University of Massachusetts Press, 1970; embora eu não compreenda o argumento contra as leis psicofísicas.
Uma crítica semelhante pode ser feita ao meu artigo "Physicalism", Philosophical Review, LXXIV (1965), pp. 339-56, reimpresso com posfácio em Modern Materialism, organização de John O"Connor, Nova Iorque, Harcourt Brace Jovanovich, 1969.
Esta questão coloca-se também no centro do problema das outras mentes, cuja ligação íntima com o problema da mente-corpo é muitas vezes ignorada. Se compreendêssemos como é que a experiência subjectiva pode ter uma natureza objectiva, então compreenderíamos a existência de outros sujeitos para além de nós próprios.
Não defini o termo "físico". Obviamente não se aplica somente àquilo que pode ser descrito pelos conceitos da física contemporânea, visto aguardarmos desenvolvimentos ulteriores. Há quem pense que nada impede que fenómenos mentais possam acabar por ser reconhecidos como físicos de pleno direito. Mas seja o que for que possa vir a ser dito sobre o físico, terá que ser objectivo. Assim, se a nossa ideia de físico chegar a alargar-se de modo a incluir fenómenos mentais, terá que lhes atribuir um carácter objectivo — quer tal se faça analisando-os nos termos de outros fenómenos já concebidos como sendo físicos, quer não. Parece-me, contudo, bastante mais provável que as relações entre o mental e o físico acabarão por ser expressas numa teoria cujos termos fundamentais não possam ser colocados com exactidão em nenhuma das duas categorias.
Li versões deste artigo perante várias audiências e estou grato a muita gente pelos seus comentários.
Publicado originalmente em The Philosophical Review LXXXIII, 4 (Outubro de 1974): pp. 435-50. Edição portuguesa publicada com a autorização do autor.
Como é ser um morcego?
Thomas Nagel
Universidade de Nova Iorque
Tradução de Luís M. S. Augusto
A consciência é o que faz do problema da relação mente-corpo um problema verdadeiramente intratável. É por essa razão, talvez, que as discussões mais recentes acerca do problema da relação mente-corpo lhe dão tão pouca importância ou o deturpam de uma forma evidente. A recente vaga de furor reducionista produziu várias análises de fenómenos e de conceitos mentais forjadas com vista a explicar a possibilidade de uma qualquer variedade de materialismo, de identificação psicofísica ou de redução1. Mas os problemas por elas tratados são aqueles comuns a este e outros tipos de redução quando, na verdade, o que faz da mente-corpo um problema único, distinto do problema água — H2O ou do problema máquina de Turing — máquina IBM, do problema relâmpago — descarga eléctrica, do problema gene — ADN ou do problema carvalho — hidrocarboneto, é ignorado.
Todos os reducionistas têm a sua analogia favorita na ciência moderna. É extremamente improvável que qualquer um destes exemplos bem sucedidos de redução sem qualquer relação uns com os outros possa vir a deitar alguma luz no problema da relação entre a mente e o cérebro. Mas, a verdade é que os filósofos compartilham com o resto da humanidade a tentação de explicar aquilo que é incompreensível em termos apropriados àquilo que é conhecido e bem compreendido, ainda que de natureza completamente diferente.
Este facto levou ao acolhimento de descrições implausíveis do mental, em grande medida porque elas permitiam tipos já conhecidos de reducionismo. Vou tentar explicar porque é que estes exemplos habituais não nos ajudam a compreender a relação entre a mente e o corpo — porque é que, de facto, não temos neste momento nenhuma noção do que poderá ser uma explicação da natureza física de um fenómeno mental. Sem a consciência, o problema da mente-corpo seria muito menos interessante; com a consciência, parece impossível de resolver. Ainda não compreendemos muito bem a característica mais importante e distintiva dos fenómenos mentais conscientes. A maior parte das teorias reducionistas nem sequer a tentam explicar. E uma análise cuidadosa mostrará que nenhum dos conceitos correntes de redução lhe pode ser aplicado. Talvez se possa forjar uma nova elaboração teórica precisamente para esse efeito, mas uma tal solução, a ser possível, sê-lo-á somente num longínquo futuro intelectual.
A experiência consciente é um fenómeno amplamente difundido. Existe em muitos níveis da vida animal, ainda que não possamos ter a certeza da sua existência nos organismos mais simples; para além disso, é extremamente difícil dizer em termos gerais o que é que nos pode fornecer provas da sua existência. (Alguns extremistas chegaram mesmo a negar que ela exista em quaisquer outros mamíferos para além do homem.) Sem dúvida que ela existe sob formas incontáveis completamente inimagináveis para nós, noutros planetas noutros sistemas solares pelo universo fora. Mas, independentemente das múltiplas formas possíveis, o facto de um organismo ter um mínimo que seja de experiência consciente significa, basicamente, que há algo que é como ser esse organismo. Pode haver outras implicações relativas ao modo de experiência; pode até mesmo (embora eu duvide) haver implicações no que diz respeito ao comportamento do organismo mas, fundamentalmente, um organismo tem estados mentais conscientes se e só se houver algo que é como ser esse organismo — algo que é como para o organismo.
Podemos chamar a isto o carácter subjectivo da experiência. Isto não é incluído em nenhuma das análises redutoras do mental mais conhecidas, recentemente forjadas, já que todas elas são logicamente compatíveis com a sua ausência. Isto não é analisável nos termos de um qualquer sistema explicativo de estados funcionais ou intencionais, já que estes podiam ser aplicados a robôs ou autómatos que se comportassem como pessoas apesar de não sentirem nada2. Não é analisável nos termos do papel causal das experiências em relação ao comportamento humano normal, e isto por razões semelhantes3. Não estou a negar que os estados e acontecimentos mentais conscientes causem comportamentos, nem que possam ser caracterizados em termos funcionais; o que eu nego é que este tipo de abordagem possa esgotar a sua análise. Qualquer programa reducionista tem que se basear numa análise daquilo que se pretende reduzir. Se a análise deixar algo de fora, o problema será posto de forma incorrecta. É inútil fundamentar a defesa do materialismo numa qualquer análise dos fenómenos mentais que não inclua explicitamente o seu carácter subjectivo. Pois não há qualquer razão para supor que uma redução que pareça plausível sem uma tentativa de explicação da consciência possa vir a alargar-se de forma a incluir a consciência. Assim sendo, sem uma ideia do que é o carácter subjectivo da experiência, não podemos saber o que exigir de uma teoria fisicalista.
Embora uma teoria do substrato físico da mente tenha que explicar muitas coisas, esta parece ser a mais difícil de explicar. É impossível excluir numa redução as características fenomenológicas da experiência do mesmo modo como se excluem as características fenomenais de uma substância comum aquando de uma redução física ou química da mesma — nomeadamente, explicando-as como efeitos nas mentes dos seres humanos que as observam4. Se se pretende defender o fisicalismo, então tem que se oferecer uma descrição física das próprias características fenomenológicas. Mas quando atentamos no seu carácter subjectivo, uma tal descrição parece ser impossível. A razão é que qualquer fenómeno subjectivo está essencialmente ligado a um único ponto de vista e parece inevitável que uma teoria física, objectiva, tenha que abandonar esse ponto de vista.
Deixem-me primeiro tentar expor a questão de forma mais completa do que pela referência à relação entre o subjectivo e o objectivo ou entre o pour-soi e o en-soi. Esta tarefa não é nada fácil. Factos acerca do como é ser um X são muito peculiares, pelo que alguns podem querer negar a sua realidade ou a importância das asserções feitas acerca deles. Para ilustrar a ligação entre subjectividade e um ponto de vista e para tornar evidente a importância das características subjectivas, pode ser útil analisar este assunto recorrendo a um exemplo que realce claramente a diferença entre os dois tipos de concepção, a subjectiva e a objectiva.
Penso que todos acreditamos que os morcegos têm experiências. Afinal de contas, são mamíferos e não se pode duvidar que eles tenham experiências sem duvidar que os ratos, os pombos ou as baleias tenham experiências. Escolhi os morcegos em vez de vespas ou solhas pois, quando que se desce demasiado fundo na árvore filogenética, as pessoas perdem gradualmente a crença de que possa existir lá qualquer experiência. Os morcegos, embora mais próximos de nós do que essas outras espécies, apresentam contudo uma gama de actividades e uma constituição sensorial tão diferentes das nossas que o problema que quero pôr se torna excepcionalmente evidente (embora também se pudesse pôr em relação a outras espécies). Mesmo sem a ajuda da reflexão filosófica, qualquer pessoa que tenha passado algum tempo num espaço fechado com um morcego assustado sabe como é confrontar-se com uma forma de vida fundamentalmente estranha.
Afirmei que o que está na origem da crença de que os morcegos têm experiências é o facto de haver algo que é como ser um morcego. Agora sabemos que a maior parte dos morcegos (os michrochiroptera, para ser mais exacto) percepcionam o mundo exterior primordialmente por meio de sonar ou ecolocalização, detectando as reverberações dos seus guinchos curtos, subtilmente modulados e de alta frequência nos objectos ao seu alcance. Os seus cérebros são constituídos de forma a correlacionar os impulsos que libertam com os ecos subsequentes e a informação assim adquirida permite-lhes discriminar distâncias, tamanhos, formas, movimento e texturas com uma precisão comparável à da visão humana. Mas o sonar de um morcego, ainda que obviamente uma forma de percepção, não é operacionalmente semelhante a nenhum dos sentidos que possuímos e não temos qualquer razão para supor que seja subjectivamente como algo que possamos experienciar ou imaginar. Isto parece criar dificuldades relativamente à noção de como é ser um morcego. Temos que tentar descobrir se haverá algum método que nos permita extrapolar para a vida interior de um morcego a partir do nosso próprio caso5 e, se isso não for possível, temos que pensar em métodos alternativos que nos possam permitir a compreensão dessa noção.
A nossa própria experiência fornece-nos o material básico para a nossa imaginação, sendo o seu alcance por isso limitado. Não vale a pena tentar imaginar que temos uma membrana nos braços que nos permite voar no crepúsculo e na alvorada e apanhar insectos com a boca, ou que temos uma visão muito pobre e que percebemos o mundo à nossa volta com a ajuda de um sistema de sinais sonoros de alta frequência reflectidos, nem tão pouco nos vale a pena imaginar que passamos o dia pendurados de cabeça para baixo num sótão. Na medida em que posso imaginar isto (o que não é muito), isto só me diz como seria para mim comportar-me como um morcego se comporta. Mas essa não é a questão. Eu quero saber como é para um morcego ser um morcego. Mas quando tento imaginar tal, fico limitado aos recursos que a minha mente tem para me oferecer, e esses recursos são inadequados para essa tarefa. Não posso alcançar esse conhecimento imaginando possíveis adições à minha experiência actual, nem imaginando subtracções graduais à mesma, nem sequer ainda imaginando combinações de adições, subtracções e modificações.
Ainda que eu conseguisse ver e comportar-me como uma vespa ou como um morcego sem mudar a minha constituição fundamental, as minhas experiências em nada seriam como as experiências desses animais. Por outro lado, é legítimo duvidar se a suposição que eu deveria possuir a constituição neurofisiológica interna de um morcego faz qualquer sentido. Mesmo que eu pudesse transformar-me gradualmente num morcego, nada na minha actual constituição me permite imaginar como seriam as minhas experiências num tal estado futuro da minha metamorfose. O melhor testemunho viria das experiências dos morcegos, se pudéssemos ao menos saber como elas são.
Assim, se a extrapolação a partir do nosso próprio caso está ligada à nossa ideia de como é ser um morcego, então essa extrapolação permanece forçosamente incompletável. Não podemos ter mais do que uma concepção esquemática de como é. Por exemplo, podemos atribuir tipos gerais de experiência baseando-nos para tal na constituição e no comportamento do animal. É deste modo que descrevemos o sonar de um morcego como uma forma de percepção frontal tridimensional; pensamos que os morcegos sentem alguns tipos de dor, medo, fome, desejo sexual, e pensamos que eles possuem outras formas de percepção que nos são mais familiares para além do sonar. Mas pensamos também que estas experiências têm em cada caso um carácter subjectivo específico que está para além da nossa capacidade de concepção. E, a haver vida consciente algures noutras partes do universo, é bem provável que algumas das suas formas sejam indescritíveis, ainda que recorramos aos termos experienciais mais gerais de que dispomos6. (Aliás, o problema não se confina a casos exóticos, pois verifica-se entre duas pessoas. Por exemplo, o carácter subjectivo da experiência de uma pessoa surda e cega de nascença é-me inacessível e o carácter subjectivo da minha experiência é-lhe provavelmente também inacessível. Isso não nos impede de acreditar que a experiência do outro tem um tal carácter subjectivo.)
Se alguém estiver tentado a negar que possamos acreditar na existência de factos como este cuja natureza exacta não podemos conceber de maneira nenhuma, então esse alguém deverá reflectir sobre o facto de que, ao contemplarmos os morcegos, estamos na mesma posição em que morcegos inteligentes ou marcianos7 estariam se tentassem conceber como é sermos nós. A constituição das suas próprias mentes tornar-lhes-ia essa tarefa impossível, mas nós sabemos bem que eles estariam completamente errados se concluíssem que não há algo tão específico como sermos nós: que somente alguns tipos gerais de estados mentais nos poderiam ser atribuídos (talvez a percepção e o apetite fossem conceitos em comum entre nós, ou talvez não). Sabemos que estariam errados ao tirar essa conclusão céptica pois sabemos como é sermos nós. E sabemos que, embora a nossa consciência possua uma enorme variedade e complexidade e que, embora não tenhamos o vocabulário para a descrevermos adequadamente, o seu carácter subjectivo é extremamente específico e em certos aspectos descritível em termos que só podem ser compreendidos por outras criaturas como nós. O facto de que não podemos esperar vir alguma vez a incluir na nossa linguagem uma descrição detalhada da fenomenologia dos marcianos ou dos morcegos não deve levar-nos a pôr de lado como sem sentido a tese que defende que os morcegos e os marcianos têm experiências completamente comparáveis às nossas em abundância de pormenores. Seria óptimo se alguém conseguisse desenvolver conceitos e uma teoria que nos permitissem pensar acerca dessas coisas, mas uma tal compreensão pode estar-nos permanentemente vedada devido aos limites que a nossa natureza nos impõe. E negar a realidade ou a significação lógica daquilo que nunca poderemos descrever ou compreender é a forma mais evidente de irracionalidade.
Isto traz-nos até às fronteiras de um tópico que exige muito mais tratamento do que aquele que eu aqui lhe posso dar, a saber, a relação entre factos por um lado e esquemas conceptuais ou sistemas representacionais por outro. O meu realismo acerca do domínio subjectivo em todas as suas formas implica a minha crença na existência de factos que estão para além dos conceitos humanos. É sem dúvida possível a um ser humano acreditar que há factos para a representação ou a compreensão dos quais os humanos nunca possuirão os conceitos necessários. De facto, seria estupidez duvidar disto, dado o carácter limitado das possibilidades humanas. Afinal de contas, teria havido números transfinitos mesmo que toda a humanidade tivesse sido exterminada pela Peste Negra antes de Cantor os ter descoberto. Mas podemos ainda pensar que há factos que nunca poderão ser representados ou compreendidos pelos seres humanos, ainda que a nossa espécie dure para sempre, simplesmente porque a nossa estrutura não nos permite trabalhar com os conceitos necessários. Esta impossibilidade pode mesmo até ser testemunhada por outros seres, embora não seja evidente que a existência de tais seres, ou a possibilidade da sua existência, seja uma condição prévia para dar sentido à hipótese de que há factos que são inacessíveis aos seres humanos. (Afinal de contas, a natureza dos seres que têm acesso aos factos inacessíveis aos humanos é presumivelmente também ela um facto inacessível aos humanos.) A reflexão sobre o como é ser um morcego parece levar-nos, deste modo, à conclusão de que há factos que não consistem na verdade de proposições exprimíveis numa linguagem humana. Podemos sentir-nos obrigados a reconhecer a existência de tais factos sem sermos capazes de os enunciar ou compreender.
Não vou, contudo, continuar a tratar deste assunto. A relação deste problema com o assunto que temos agora em mãos (a saber, o problema da relação mente-corpo) é o facto de nos permitir fazer uma observação geral acerca do carácter subjectivo da experiência. Seja qual for o estatuto dos factos relativos a algo como é ser um ser humano, um morcego, ou um marciano, a verdade é que esses factos parecem concretizar um ponto de vista particular.
Não me refiro aqui à presumível privacidade da experiência. O ponto de vista em questão não é um ponto de vista acessível somente a um único indivíduo: trata-se mais propriamente de um tipo. É frequentemente possível adoptar um ponto de vista alheio, pelo que a compreensão de tais factos não se limita à compreensão do nosso próprio caso. Há um sentido em que os factos fenomenológicos são perfeitamente objectivos: uma pessoa pode saber ou dizer qual é a qualidade da experiência do outro. Contudo, estes factos fenomenológicos são subjectivos na medida em que mesmo esta atribuição objectiva de experiência só é possível para alguém cuja semelhança com o objecto desta atribuição seja suficiente para lhe permitir adoptar o seu ponto de vista — compreender a atribuição quer na primeira quer na terceira pessoa, por assim dizer. Quanto maior for a diferença entre nós e o outro experienciador, menor será o sucesso que podemos esperar deste empreendimento. No nosso próprio caso ocupamos o ponto de vista relevante mas teremos tanta dificuldade em compreender correctamente o nosso ponto de vista se o abordarmos a partir de um outro ponto de vista como teríamos se tentássemos compreender a experiência de uma outra espécie sem nos colocarmos no seu ponto de vista.8
Isto tem directamente a ver com o problema da relação mente-corpo. Pois se os factos da experiência — factos acerca de como é para o organismo que tem a experiência — só são acessíveis a partir de um único ponto de vista, então trata-se de um mistério como é que o verdadeiro carácter das experiências se pode revelar no funcionamento físico desse organismo. Este último pertence ao domínio dos factos objectivos por excelência — do tipo que pode ser observado e compreendido a partir de muitos pontos de vista e por indivíduos com sistemas perceptivos diferentes. Não há quaisquer obstáculos comparáveis da imaginação à aquisição de conhecimento sobre a neurofisiologia dos morcegos por parte dos cientistas humanos e pode bem ser que morcegos inteligentes ou marcianos venham a saber mais sobre o cérebro humano do que nós alguma vez poderemos saber.
Isto não é só por si um argumento contra o reducionismo. Um cientista marciano que não compreendesse a percepção visual poderia compreender o arco-íris, o relâmpago ou as nuvens como fenómenos físicos, ainda que não chegasse nunca a compreender os conceitos humanos de arco-íris, relâmpago e nuvem, ou o papel que estas coisas têm no nosso mundo fenoménico. A natureza objectiva das coisas representadas por estes conceitos poderia ser apreendida por ele pois, embora os próprios conceitos estejam ligados a um ponto de vista individualizado e a uma fenomenologia visual individualizada, as coisas apreendidas a partir desse ponto de vista não o são: elas são observáveis a partir do ponto de vista, mas são-lhe exteriores; logo, podem ser compreendidas a partir de outros pontos de vista, seja pelos mesmos ou por outros organismos. O relâmpago possui um carácter objectivo que não se esgota na sua aparição visual e isto pode ser estudado por um marciano sem visão. Para ser mais exacto, o relâmpago tem um carácter mais objectivo do que aquele que é revelado na sua aparição visual. Falando da passagem da caracterização subjectiva para a caracterização objectiva, gostaria de não me comprometer com a ideia de um ponto limite, uma natureza intrínseca completamente objectiva da coisa, que poderemos alcançar ou não. Talvez seja mais correcto concebermos a objectividade como uma direcção em que o entendimento pode avançar. E na tentativa de compreender um fenómeno como o relâmpago podemos legitimamente afastar-nos tanto quanto nos for possível de um ponto de vista estritamente humano.9
No caso da experiência, por outro lado, a ligação a um ponto de vista particular parece ser muito mais íntima. Não é fácil compreender o que queremos dizer quando nos referimos ao carácter objectivo de uma experiência separadamente do ponto de vista particular a partir do qual o seu sujeito a apreende. Afinal de contas, o que restaria de como é ser um morcego se ignorássemos o ponto de vista do morcego? Mas se a experiência não tem, a juntar ao seu carácter subjectivo, uma natureza objectiva que pode ser apreendida de múltiplos pontos de vista, então como é que se pode conceber que um marciano, ao investigar o meu cérebro, pudesse estar a observar os processos físicos correspondentes aos meus processos mentais (do mesmo modo que poderia observar os processos físicos correspondentes a relâmpagos), somente a partir de um outro ponto de vista? Já agora, como é que um fisiólogo humano os poderia observar a partir de um outro ponto de vista?10
Somos ao que parece confrontados com uma dificuldade de carácter geral relativamente à redução psicofísica. Noutras áreas o processo de redução é um passo em frente em direcção a uma maior objectividade e a uma visão mais precisa da verdadeira natureza das coisas. Isto consegue-se reduzindo a nossa dependência de pontos de vista individuais ou específicos da nossa espécie relativamente ao objecto de estudo. Descrevemo-lo, não nos termos das impressões que ele provoca nos nossos sentidos, mas em termos dos seus efeitos mais gerais e de propriedades detectáveis por outros meios que não os dos sentidos humanos. Quanto menos depender de um ponto de vista especificamente humano, tanto mais objectiva é a nossa descrição. É-nos possível proceder deste modo porque embora os conceitos e as ideias que empregamos para pensar sobre o mundo exterior sejam primeiramente aplicados a partir de um ponto de vista que implica a nossa estrutura perceptiva, usamo-los para nos referirmos a coisas que estão para além deles próprios — relativamente às quais temos o ponto de vista fenoménico. Por isso podemos abandoná-lo em favor de um outro e continuarmos ainda a pensar sobre as mesmas coisas.
A própria experiência, contudo, não parece conformar-se a este procedimento. A ideia de passarmos da aparência para a realidade parece não fazer aqui qualquer sentido. Qual é a situação análoga neste caso a tentarmos alcançar uma compreensão mais objectiva dos mesmos fenómenos desfazendo-nos do ponto de vista subjectivo inicial em relação a eles em favor de um outro ponto de vista que é mais objectivo mas que se refere à mesma coisa? Parece decerto improvável que nos consigamos aproximar mais da verdadeira natureza da experiência humana deixando para trás a especificidade do nosso ponto de vista humano e esforçando-nos por obter uma descrição em termos acessíveis a seres que não conseguiriam imaginar como é sermos nós. Se o carácter subjectivo da experiência só é completamente compreensível a partir de um ponto de vista, então qualquer desvio em direcção a uma maior objectividade — ou seja, em direcção a uma menor dependência de um ponto de vista — não nos aproxima mais da verdadeira natureza do fenómeno: afasta-nos ainda mais dela.
Num certo sentido, os germes desta objecção em relação à redutibilidade da experiência podem detectar-se já nos casos de redução bem sucedidos: pois ao descobrirmos que o som é, na realidade, um fenómeno de ondas no ar ou noutros meios, deixamos para trás um ponto de vista para adoptarmos um outro, mas o ponto de vista auditivo, humano ou animal, permanece não reduzido. Os membros de duas espécies radicalmente diferentes entre si podem compreender os mesmos fenómenos físicos em termos objectivos e isto não obriga a que elas compreendam as formas fenoménicas sob as quais esses fenómenos aparecem aos sentidos dos membros da outra espécie. É pois uma condição da possibilidade de se referirem a uma realidade comum que os seus pontos de vista mais específicos não façam parte da realidade comum que ambas apreendem. A redução só será bem-sucedida se se omitir o ponto de vista específico da espécie acerca daquilo que se pretende reduzir.
Mas se procedemos de forma correcta ao pôr de lado este ponto de vista na tentativa de conseguirmos uma compreensão mais completa do mundo exterior, não o podemos ignorar permanentemente, visto ele ser a essência do mundo interior e não meramente um ponto de vista acerca dele. A maior parte daquilo que constitui o neobehaviorismo da psicologia filosófica mais recente é o resultado do esforço para substituir um conceito objectivo da mente pela própria coisa, de modo a não ter mais nada que não se possa reduzir. Se reconhecermos que uma teoria física da mente tem que obrigatoriamente dar conta do carácter subjectivo da experiência, então temos que admitir que não possuímos de momento quaisquer pistas de como isto poderá ser alcançado. O problema é único. Se os processos mentais são de facto processos físicos, então há algo que é como, intrinsecamente,11 passar por determinados processos físicos. O que possa ser o caso para uma tal coisa permanece um mistério.
Que moral é que podemos tirar destas reflexões e o que é que se deve fazer em seguida? Seria um erro concluir que o fisicalismo deve ser falso. Nada fica provado pela inadequação de hipóteses fisicalistas que pressupõem uma incorrecta análise objectiva da mente. Seria mais correcto dizermos que o fisicalismo é uma posição que não conseguimos compreender porque de momento não conseguimos conceber de que modo é que ela pode ser verdadeira. Talvez se considere extravagante a necessidade de uma tal concepção como uma condição de compreensão. Afinal de contas, pode-se argumentar que a ideia central do fisicalismo é bastante clara: os estados mentais são estados corporais; os acontecimentos mentais são acontecimentos físicos. Não sabemos que estados e acontecimentos físicos são esses, mas isso não nos deveria impedir de compreender a hipótese. O que poderia ser mais claro do que as palavras "é" e "são"?
Mas eu acredito que é exactamente esta clareza aparente da palavra "é" que é enganadora. De um modo geral, quando nos dizem que X é Y sabemos como é que isso deve corresponder à verdade, mas tal depende de um pano de fundo conceptual ou teórico e não é exprimível somente por meio do "é". Sabemos de que modo "X" e "Y" se referem um ao outro e sabemos a que tipo de coisas é que eles se referem, e temos também uma ideia geral do modo como esses dois trajectos referenciais podem convergir numa única coisa, seja ela um objecto, uma pessoa, um processo, um acontecimento, ou seja lá o que for. Mas quando os dois termos de uma identificação são bastante díspares entre si pode já não ser tão claro como é que ela pode ser verdadeira. Podemos nem sequer ter uma ideia aproximada do modo como esses dois percursos referenciais poderão convergir, ou em que tipo de coisas eles poderão convergir, e podemos ter que elaborar um quadro teórico que nos permita compreender isto. Sem um quadro teórico a identificação fica envolta num ar de misticismo.
Isto explica a coloração mágica ostentada pelas divulgações populares que apresentam as descobertas científicas elementares como proposições que têm que ser aceites sem serem realmente compreendidas. Por exemplo, hoje em dia aprende-se em tenra idade que toda a matéria é na verdade energia. Mas apesar do facto de saberem o que significa "é", a maior parte das pessoas não fará nunca a menor ideia do que torna esta proposição verdadeira por não terem conhecimentos teóricos para tal.
Actualmente o estatuto do fisicalismo é semelhante àquele que a hipótese de que toda a matéria é energia teria tido se tivesse sido defendida por um filósofo pré-socrático. Não conseguimos sequer começar a conceber como é que ele poderá ser verdadeiro. Para compreendermos a hipótese de que um acontecimento mental é um acontecimento físico é preciso mais do que a mera compreensão do termo "é". Falta-nos a ideia de como um termo mental e um termo físico se podem referir à mesma coisa e as analogias habituais com identificações teóricas noutros campos não nos conseguem fornecer essa ideia. Elas não o conseguem fazer porque se construirmos a referência de termos mentais a acontecimentos físicos de acordo com o modelo habitual acabamos ou com um reaparecimento de acontecimentos subjectivos distintos como os efeitos através dos quais a referência mental a acontecimentos físicos é assegurada, ou com uma teoria falsa de como os termos mentais se lhes referem (por exemplo, uma teoria behaviorista causal).
Por estranho que pareça, podemos ter indícios da veracidade de algo que não conseguimos compreender. Imaginemos que alguém não familiarizado com a metamorfose dos insectos mete uma lagarta num cofre esterilizado e que após algumas semanas, ao abrir o cofre, se depara com uma borboleta. Se a pessoa que fechou a lagarta no cofre tem a certeza que o cofre se manteve sempre fechado então ela tem boas razões para pensar que a borboleta é ou foi outrora a lagarta, ainda que não faça a mínima ideia de como é que tal pode ter acontecido. (Uma possibilidade seria a de que a lagarta tinha dentro de si um minúsculo parasita alado que a devorou e que cresceu até se transformar na borboleta.)
É bem provável que nos encontremos numa posição semelhante face ao fisicalismo. Donald Davidson defendeu que se os acontecimentos mentais têm causas e efeitos físicos, então têm que ter descrições físicas. Segundo ele temos razões para pensar deste modo apesar do facto de que não temos — e na verdade não poderíamos ter — uma teoria psicofísica geral.12 O seu argumento aplica-se a acontecimentos mentais intencionais, mas eu penso que também temos razões para crer que as sensações são processos físicos, sem estarmos em posição de compreender esse facto. A posição de Davidson é a de que certos acontecimentos físicos têm propriedades irredutivelmente mentais, e talvez seja possível uma visão descritível nestes termos. Mas nada do que hoje podemos conceber equivale a uma tal visão e nem fazemos a mínima ideia de como seria uma teoria que nos permitisse pensar nesses termos.13
Pouquíssimo trabalho tem sido feito sobre a questão básica (da qual se pode omitir completamente qualquer menção ao cérebro) se o facto de as experiências possuírem um carácter objectivo faz sequer sentido. Por outras palavras, fará sentido perguntar como são realmente as minhas experiências em comparação a como elas me parecem? Não podemos compreender verdadeiramente a hipótese de que a sua natureza é capturada numa descrição física a menos que consigamos compreender a ideia mais elementar de que elas têm uma natureza objectiva (ou de que processos objectivos podem ter uma natureza subjectiva).14
Gostaria de terminar com uma proposta conjectural. Podemos diminuir o abismo entre subjectividade e objectividade a partir de uma outra perspectiva. Pondo temporariamente de lado a relação entre a mente e o cérebro, podemos esforçar-nos por compreender mais objectivamente o mental per se. Actualmente não conseguimos pensar sobre o carácter subjectivo da experiência sem nos apoiarmos na imaginação — sem assumirmos o ponto de vista do sujeito que tem a experiência. Devíamos ver isto como um desafio para a formação de novos conceitos e para a descoberta de um novo método — uma fenomenologia objectiva não dependente da empatia e da imaginação. Embora provavelmente ela não explicasse tudo, o seu objectivo seria o de descrever, pelo menos de forma parcial, o carácter subjectivo de experiências numa forma que fosse compreensível a seres incapazes de ter essas experiências.
Teríamos que desenvolver uma tal fenomenologia para descrever as experiências dos morcegos com os seus sonares, mas poderíamos de igual modo começar pelos seres humanos. Poderíamos, por exemplo, tentar desenvolver conceitos que pudessem ser usados para descrever a uma pessoa cega de nascença como é ver. Acabaríamos por ir de encontro a algum obstáculo, mas seria talvez possível divisar um método para exprimir em termos objectivos muito mais e com maior precisão do que aquilo que conseguimos exprimir actualmente. As vagas analogias intermodais — por exemplo, "O vermelho é como o som de um trompete" — que aparecem em abordagens deste assunto de pouco servem. Isso é perfeitamente óbvio a qualquer pessoa que tenha ouvido um trompete e visto a cor vermelha. Mas as características estruturais da percepção podem ser mais apropriadas para uma descrição objectiva, ainda que algo tenha que ficar de fora. E conceitos alternativos àqueles que aprendemos na primeira pessoa podem permitir-nos chegar a um tipo de compreensão até da nossa própria experiência que nos é negada pela própria facilidade de descrição e ausência de distância que os conceitos subjectivos permitem.
Para além do seu interesse intrínseco, uma tal fenomenologia objectiva neste sentido pode permitir que questões acerca da base física15 da experiência assumam uma forma mais inteligível. Aspectos da experiência subjectiva que permitam este tipo de descrição objectiva podem ser candidatos mais apropriados a explicações objectivas de um tipo mais habitual. Mas independentemente desta ideia estar certa ou errada, parece improvável que alguma teoria física do mental possa ser levada a sério até nos termos debruçado mais sobre o problema geral da subjectividade e da objectividade. Caso contrário não conseguiremos sequer colocar o problema da relação mente-corpo sem nos evadirmos a ele16.
Thomas Nagel
Notas
Exemplos disto são J.J.C. Smart, Philosophy and Scientific Realism (Londres, 1963); David K. Lewis., "An Argument for the Identity Thesis", Journal of Philosophy, LXIII (1966), reimpresso com adenda em David M. Rosenthal, Materialism & the Mind-Body Problem (Englewood Cliffs, N.J., 1971); Hilary Putnam, "Psychological Predicates" em Capitan and Merrill, Art, Mind & Religion (Pittsburgh, 1967), reimpresso em Rosenthal, op. cit., como "The Nature of Mental States"; D.M. Armstrong, A Materialist Theory of the Mind (Londres, 1968); D.C. Dennett, Content and Consciousness (Londres, 1969). Exprimi dúvidas anteriormente em "Armstrong on the Mind", Philosophical Review LXXIX (1970), pp. 394-403; "Brain Bisection and the Unity of Consciousness", Synthèse, 22 (1971); e uma crítica recente de Dennett, Journal of Philosophy, LXIX, 1972. Ver também Saul Kripke, "Naming and Necessity" in Davidson & Harman, Semantics of Natural Language, Dordrecht (1972), especialmente pp. 334-342, e ainda M.T. Thornton, "Ostensive Terms and Materialism", The Monist, 56 (1972).
Talvez seja impossível existirem tais autómatos. Talvez algo tão complexo que se comporte como uma pessoa tenha que ter experiências. Mas isso, a ser verdade, é um facto que não pode ser descoberto pela mera análise do conceito de experiência.
Isto não equivale àquilo acerca do qual não nos podemos enganar, porque nos podemos enganar acerca da experiência e porque a experiência está presente em animais que não possuem linguagem nem pensamento, não tendo, logo, quaisquer crenças sobre as suas experiências.
Cf. Richard Rorty, "Mind-Body Identity, Privacy, and Categories", The Review of Metaphysics, XIX (1965), especialmente pp. 37-38.
Com "o nosso próprio caso" não quero dizer simplesmente "o meu próprio caso", mas refiro-me antes às ideias mentalistas que aplicamos sem problemas a nós próprios e aos outros seres humanos.
Por isso a forma analógica da expressão "como é" induz em erro. Não quer dizer "com o que (na nossa experiência) a consciência se parece" mas sim "como ela é para o próprio sujeito".
Quaisquer seres extraterrestres inteligentes completamente diferentes de nós.
Pode ser mais fácil do que penso transcender as barreiras entre espécies com a ajuda da imaginação. Por exemplo, as pessoas cegas são capazes de detectar objectos próximos delas através de uma espécie de sonar, usando estalidos vocais ou batidas leves com uma bengala. Se soubéssemos como é ter esta experiência, talvez pudéssemos, por extensão, fazer uma ideia do que é ter um sonar tão preciso como o sonar de um morcego. A distância que nos separa dos outros e das outras espécies situa-se algures num contínuo. Mesmo em relação a outras pessoas só conseguimos compreender de forma muito parcial como é estar na sua pele; quando transpomos a barreira entre espécies, é provável que essa compreensão seja ainda bastante mais incompleta. A imaginação é extraordinariamente maleável. O ponto a que quero chegar não é, contudo, que nós não podemos saber como é ser um morcego. Não estou aqui a pôr esse problema epistemológico. O que eu quero dizer é mais propriamente que, até para concebermos como é ser um morcego (e sabermos a fortiori como é ser um morcego), temos que adoptar o seu ponto de vista. Se conseguirmos adoptar esse ponto de vista de forma aproximada ou parcial, então também o conceberemos de forma aproximada ou parcial. Ou pelo menos assim parece no quadro do nosso conhecimento actual.
O problema que vou pôr pode por isso ser posto mesmo se a distinção entre descrições ou pontos de vista mais subjectivos e mais objectivos só se pode fazer dentro de um ponto de vista humano mais abrangente. Não aceito este tipo de relativismo conceptual, mas também não preciso de o refutar para defender que uma redução psicofísica não pode ser incluída no modelo do subjectivo-ao-objectivo mais conhecido de outros casos.
O problema não se reduz somente ao facto de que, quando eu olho para a Mona Lisa, a minha experiência visual tem uma certa qualidade da qual nenhum traço seria detectável por alguém que observasse o interior do meu cérebro. Mesmo que ele conseguisse discernir no meu cérebro uma minúscula imagem da Mona Lisa, ele não teria quaisquer razões para a identificar com a minha experiência.
Esta não seria uma relação contingente, como a de uma causa com o seu efeito dela distinto. Seria necessariamente verdadeiro que um determinado estado físico "sentiria" de uma determinada maneira. Em Semantics of Natural Language (obra editada por Davidson e Harman) Saul Kripke defende que as análises behavioristas causais do mental, bem como outras análises com ela relacionadas, falham porque constroem, por exemplo, "dor" como tratando-se de um nome meramente contingente de dores. O carácter subjectivo de uma experiência ("a sua qualidade fenomenológica imediata", chama-lhe Kripke [p. 340]) é a propriedade essencial ignorada por essas análises e aquela em virtude da qual ela é, necessariamente, a experiência que é. A minha perspectiva está muito próxima da dele. Tal como Kripke, penso que a hipótese de que um certo estado cerebral deva necessariamente ter um certo carácter subjectivo é uma hipótese incompreensível sem a ajuda de mais esclarecimento. Esse esclarecimento não brota das teorias que vêem a relação entre a mente e o cérebro como contingente, mas talvez haja outras alternativas que ainda não foram descobertas.
Uma teoria que explicasse a relação necessária entre a mente e o cérebro deixar-nos-ia ainda com o problema levantado por Kripke de explicar como é que apesar de tudo essa relação parece ser contingente. Essa dificuldade parece-me ser ultrapassável do seguinte modo. Podemos imaginar algo representando-o para nós próprios perceptivamente, empaticamente, ou ainda simbolicamente. Não pretendo explicar aqui como funciona a imaginação simbólica, mas parte do que se passa com as outras é assim. Para imaginarmos perceptivamente uma coisa, pomo-nos num estado consciente semelhante àquele em que estaríamos se a percepcionássemos realmente. De modo a imaginarmos algo empaticamente, pomo-nos num estado consciente semelhante à própria coisa. (Este método só pode ser usado para imaginar acontecimentos e estados mentais — os nossos ou os de outrem). Quando tentamos imaginar um estado mental sem o estado cerebral que lhe está associado temos que, primeiramente, imaginar empaticamente a ocorrência do estado mental, isto é, pomo-nos num estado que se lhe assemelhe mentalmente. Ao mesmo tempo, tentamos imaginar perceptivamente a não ocorrência do estado físico que lhe está associado pondo-nos num outro estado dissociado do primeiro: um que se assemelhe àquele em que estaríamos se percepcionássemos a não ocorrência do estado físico. Quando a imaginação das características físicas é perceptiva e a imaginação das características mentais é empática, parece-nos que podemos imaginar qualquer experiência sem o seu estado cerebral associado, e vice-versa. A relação entre eles aparecerá como contingente ainda que seja uma relação necessária, devido à independência entre si dos tipos distintos de imaginação.
(Já agora, teremos que nos confrontar com o solipsismo se compreendermos erroneamente a imaginação empática como funcionando como a imaginação perceptiva: nesse caso parecer-nos-á impossível imaginar qualquer experiência que não seja a nossa.)
Ver "Mental Events" in Experience and Theory, editado por Lawrence Foster and J.W. Swanson, Amherst, University of Massachusetts Press, 1970; embora eu não compreenda o argumento contra as leis psicofísicas.
Uma crítica semelhante pode ser feita ao meu artigo "Physicalism", Philosophical Review, LXXIV (1965), pp. 339-56, reimpresso com posfácio em Modern Materialism, organização de John O"Connor, Nova Iorque, Harcourt Brace Jovanovich, 1969.
Esta questão coloca-se também no centro do problema das outras mentes, cuja ligação íntima com o problema da mente-corpo é muitas vezes ignorada. Se compreendêssemos como é que a experiência subjectiva pode ter uma natureza objectiva, então compreenderíamos a existência de outros sujeitos para além de nós próprios.
Não defini o termo "físico". Obviamente não se aplica somente àquilo que pode ser descrito pelos conceitos da física contemporânea, visto aguardarmos desenvolvimentos ulteriores. Há quem pense que nada impede que fenómenos mentais possam acabar por ser reconhecidos como físicos de pleno direito. Mas seja o que for que possa vir a ser dito sobre o físico, terá que ser objectivo. Assim, se a nossa ideia de físico chegar a alargar-se de modo a incluir fenómenos mentais, terá que lhes atribuir um carácter objectivo — quer tal se faça analisando-os nos termos de outros fenómenos já concebidos como sendo físicos, quer não. Parece-me, contudo, bastante mais provável que as relações entre o mental e o físico acabarão por ser expressas numa teoria cujos termos fundamentais não possam ser colocados com exactidão em nenhuma das duas categorias.
Li versões deste artigo perante várias audiências e estou grato a muita gente pelos seus comentários.
Publicado originalmente em The Philosophical Review LXXXIII, 4 (Outubro de 1974): pp. 435-50. Edição portuguesa publicada com a autorização do autor.

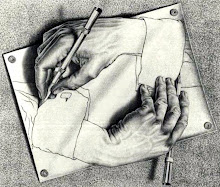
Nenhum comentário:
Postar um comentário